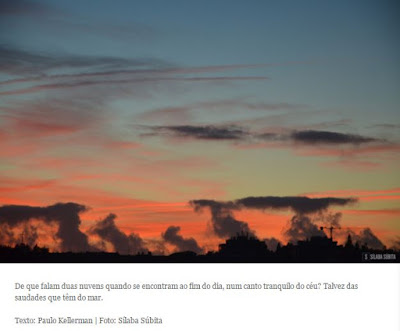30 sílabas
∞
Basicamente,
era um caracol preguiçoso. Gostava de estar sossegado no seu canto da floresta,
indiferente às pressas do mundo. Havia um pássaro seu amigo que lhe dizia: «Oh
pá, tu és o único caracol que tem duas conchas. Essa em que vives e onde te proteges
da chuva. E outra, que não se vê mas que é a mais rija: aquela onde te escondes
do mundo.» O caracol encolhia os ombros (faz de conta, porque os caracóis não
têm ombros), o pássaro encolhia os ombros (faz de conta, porque os pássaros não
têm ombros) e ficavam os dois a olhar para as árvores. Depois, o pássaro
cansava-se do silêncio e falava dos seus voos. Contava como era bom furar as
nuvens com o bico e sentir a sua brancura húmida, como era inebriante sobrevoar
o mar e sentir os salpicos das ondas nas penas, como gostava de voar na
direcção do pôr-do-sol e sentir que um dia chegaria até junto dele, como sentia
serenidade quando pousava no cimo do farol e contemplava aquela linha mágica
onde o azul do céu se mistura com o azul do mar. E suspirava. Para afastar a fantasia,
o caracol dizia uma qualquer coisa pragmática e anti-sonho, como por exemplo:
«És palerma. Então não sabes que se conseguisses chegar junto ao sol, te
queimavas todo? Pode parecer mais fraquinho quando está a desaparecer mas olha
que mesmo assim está quente. Uns cinquenta e nove graus. Pelo menos.» A fantasia
afastava-se. E antes de regressar aos seus esvoaçamentos, o pássaro dizia:
«Gostava de te levar comigo, um dia. Mas o peso das tuas conchas é demasiado
para mim.» Contudo, ambos sabiam que quando partilhava os seus voos e os seus
sentires, o pássaro transportava o amigo consigo. Depois do pássaro partir, o
caracol percorria os seus caminhos de sempre e deixava neles o seu rasto
pegajoso; mas, na verdade, estava a voar; o seu espírito voava. E de tal forma
esses voos eram reais que começaram a corroer as suas conchas. Foi por isso que,
certo dia, deu por si a planear um voo verdadeiro. Como perceber em que momento
um sonho se transforma num plano? Talvez isso seja tão difícil de determinar como
perceber onde termina o azul do céu e começa o azul do mar. Mas que importa? Há
dois azuis e de repente ambos se transformam apenas num, em algo que é muito
mais do que uma simples soma de duas partes. 1+1=∞. «Oh pá, é magia. E não
penses mais nisso.», diria o pássaro. Houve, portanto, um momento em que o
sonho passou a plano. E, na segurança da sua concha, o caracol começou a
preparar uma viagem de descoberta. Um voo. Uma caminhada, que é aquilo que os
caracóis fazem quando precisam sair das suas conchas e sentir o mundo. Planeou
que caminharia até ao farol, porque de tudo o que o pássaro lhe contava era o
farol o que mais o fascinava. Não diria nada a ninguém, limitar-se-ia a ir
(talvez amanhã, porque basicamente era preguiçoso. Mas iria…); e após uma longa
e difícil jornada até ao topo do farol, contemplaria a imensidão do horizonte e
talvez conseguisse sentir-se verdadeiramente parte do mundo; nesse momento, as
suas conchas ficariam mais leves, tão leves que nem as sentiria. E poderia aguardar
a chegada do pássaro, para o surpreender: «Que andas a fazer por aqui?», diria
num tom sério. E depois ririam, juntos. Leves.
(Crónica para Jornal de Leiria)
Pelo menos numa coisa concordamos
«Se
agora pudesses fugir, para onde irias?»
«Porque
haveria de querer fugir?»
«Todos
queremos fugir. Porque seria diferente contigo?»
«Tu
queres fugir?»
«Claro
que sim. Por vezes. Muitas vezes.»
«E
porque não o fazes?»
«Porque
para fugir é preciso ter coragem.»
«É?»
«Claro
que sim. A ideia de que a fuga é a opção dos cobardes parece-me bastante parva.
Já pensaste nisso? A maior parte das vezes, a alternativa mais fácil é precisamente
ficar. A permanência é mais fácil, a continuidade é mais fácil. Uma fuga é uma
quebra da ordem, um desafio à ordem. Exige coragem, não achas?»
«Não
sei. Nunca tinha pensado nisso.»
«Não?
Nunca pensas em fugir?»
«Queres
que te diga a verdade? Todos os dias penso em fugir.»
«De
quê?»
«Nem
sei. É preciso fugir de alguma coisa?»
«Geralmente,
fugimos porque algo nos persegue. E a maior parte das vezes esse algo somos nós
próprios. Somos nós que nos perseguimos, que forçamos a nossa própria fuga.»
«Isso
parece-me demasiado filosófico. E dizem que a filosofia é a ciência do saber
pensar mas cá para mim é a ciência do conseguir complicar. É verdade que não
reflecti sobre isto mas parece-me simples. A necessidade de fuga pode ser um mero
desejo de estar noutro lado, não? Quero estar ali e não aqui, apenas isso. E
provavelmente quando chegar ali percebo que já não quero estar lá.»
«É
assim que se passa contigo?»
«Por
vezes, é. Ou melhor, acho que é o que se passa sempre. Mas já me habituei a não
reparar, a fingir que não percebo.»
«A tua
vida é um fingimento?»
«Não
poupas nas perguntas, tu.»
«Desculpa.»
«Não
faz mal.»
«E
então? É?»
«Gosto
de ti. Quero impressionar-te, quero seduzir-te, quero agradar-te; porque gostaria
que também gostasses de mim. Parece simples, não achas? E no fundo podemos
reduzir tudo a isso: à necessidade de ser gostado. Queremos que gostem de nós.
Apenas isso. E se sentimos que não gostam, tendemos a fingir ser algo que não
somos, algo que imaginamos que os outros possam apreciar em nós. Fingimos
porque precisamos.»
«Que
perspectiva sombria da vida.»
«E não
será assim com toda a gente?»
«Preocupas-te
com o que os outros pensam de ti?»
«Por
vezes, claro que sim. Mas também me preocupo com o que penso de mim. No fundo,
a opinião que temos de nós próprios acaba por determinar tudo.»
«E que
opinião tens de ti próprio?»
«Geralmente,
a opinião que tenho de mim é muito condicionada pela opinião que os outros têm
de mim; como se me precisasse de olhar ao espelho, sabes? Se não te olhares ao
espelho durante um mês, acabas por começar a esquecer o aspecto do teu rosto. Podes
até correr o risco de não te reconheceres de imediato. Não acontece isso
contigo?»
«Nem
por isso.»
«E se
não vês o teu reflexo nos outros, também acabas por perder um pouco a noção daquilo
que és. Se ninguém te diz que tem saudades tuas, por exemplo; isso reflecte
algo, penso eu. Reflecte que ninguém gosta de ti o suficiente para sentir
saudades tuas, que ninguém sente verdadeiramente a tua ausência. Que não fazes
falta.»
«E não
poderá apenas significar que as pessoas não querem ou não conseguem dizer que
têm saudades, apesar de as sentirem? Há muita gente que prefere não o fazer,
que julga que dizer que tem saudades é uma forma de pedir atenção, de se
intrometer na vida no outro. Não dizer que tem saudades pode ser um acto de
respeito pelo outro. De respeito pelo seu espaço e pelo seu tempo; e pelos seus
sentires, claro.»
«É
verdade. Mas se toda a gente agir desse modo, ninguém verbaliza o que sente. E
a partir de certo momento, todos seríamos forçados a intuir os sentimentos dos
outros. Porque se não o diz, não podemos ter a certeza. Resta-nos adivinhar.»
«Mas não
é a palavra que confere certeza seja ao que for. Não é por ser dito, por se
transformar em palavras, que um sentimento ganha consistência.»
«Pois
não. Mas por outro lado, se o outro não diz o que sente, como poderás saber?
Vais falar-me de olhares, de gestos, de atitudes? Claro que um olhar pode dizer
mais que uma biblioteca cheia de palavras. Mas o ideal, parece-me, é que o
gesto coincida com a palavra. Que o gesto seja demonstrado mas também dito.»
«Não é
o facto de ser dito que o torna mais real, mais concreto. Um sentimento está
muito além das palavras que o possam descrever. Aliás, as palavras são apenas
uma convenção. Sentes de determinada forma e é conveniente que dês uma
designação a esse sentimento; e então atribuis-lhe uma palavra pré-definida,
que consensualmente descreve aquilo que sentes. No fundo, a mania de reduzir
tudo a palavras é uma forma de preguiça.»
«Achas
mesmo?»
«Diz-me,
o que preferes: que diga que te amo ou que te beije de uma forma que te mostre
o quanto te amo?»
«Tu não
me amas.»
«Mas se
amasse? E já agora, como sabes que não te amo? Porque não te disse? Para ti, o
amor apenas existe a partir do momento em que se anuncia formalmente?»
«Achas
que isso pode vir a acontecer?»
«O
quê?»
«Que
venhas a amar-me.»
«Primeiro
teríamos que definir o que significa amar, não é? Vês como as palavras apenas
complicam as coisas?»
«Estás
a fugir à pergunta.»
«E não
posso fugir às perguntas que quiser? Diz-me tu, então: achas possível que eu
venha a amar-te? Seja lá o que signifique isso de amar.»
«Parece-te
normal estarmos para aqui a falar de amor? Quando, no fundo, nem meia dúzia de
vezes falámos?»
«Também
foges às perguntas, afinal.»
«Se
calhar é demasiado cedo para fazer certas perguntas.»
«O
problema nunca está nas perguntas mas nas respostas. E não devemos fazer as
perguntas se não estivermos preparados para as respostas.»
«És tão
sentenciosa.»
«Estás
preparado para a resposta à tua pergunta? E se disser que te amo? Estás
preparado para isso?»
«Estás
a brincar com as palavras.»
«Tu é
que és defensor do uso da palavra. E se as palavras permitem que se brinque com
elas, é mau sinal. Já com os sentimentos, é mais complicado brincar.»
«Também
estás a brincar com os meus sentimentos, de certa forma.»
«Desculpa,
então. Não, não te amo. Não faço ideia se alguma vez amarei. Nem sei, sequer,
se quero amar-te.»
«Se
queres? Mas então o amor é um acto de decisão? De opção?»
«Tens
razão. Agora, expressei-me mal. Se calhar, estou defensiva.»
«Porquê?»
«Não
sei. No fundo, é como dizes. É um pouco disparatado estarmos aqui a falar de
amor quando mal nos conhecemos.»
«Mas o
facto de o estarmos a fazer talvez seja revelador de algo, não?»
«De que
somos parvos, talvez.»
«Porque
estás defensiva?»
«Talvez
porque o amor me assuste. O amor é avassalador, não se controla, não se liga
nem desliga. Ou existe ou não existe, ponto final. E, por isso, assusta-me.
Porque me vulnerabiliza completamente. O amor é aquilo que, simultaneamente,
mais nos fortalece e enfraquece, já reparaste? O que queria dizer era que não
sei se neste momento da minha vida me quero vulnerabilizar.»
«Tens
medo do que sentes, do que podes sentir?»
«Claro.
Agrada-te a ideia de que possa apaixonar-me por ti? Excita-te?»
«Que
disseste há pouco? Se não estiveres preparada para as respostas, não faças as
perguntas.»
«Agrada-te?»
«Tu
agradas-me.»
«Achas
que esta conversa vai conduzir a algum lado?»
«Todas
as conversas conduzem a algum lado. E gosto do destino desta.»
«Não
achas disparatado falar de futuro quando o presente deveria merecer toda a
nossa atenção? Quando o presente é feliz.»
«É?
Estás feliz?»
«Claro.
Falar contigo faz-me feliz.»
«Porquê?»
«Racionalizar
a felicidade é algo que não me interessa. Uma perda de tempo, acho eu.»
«Sim,
talvez seja. Afinal, o problema da felicidade é o pós-felicidade, não? Estamos
felizes e parece que o mundo parou, nada mais interessa; somos o mundo. Mas de
repente, a felicidade cessa. E pronto. Cessa, simplesmente; ponto final. E os
momentos que se seguem a essa constatação são desoladores. Como se tivéssemos
acabado de perder tudo, como se fossemos forçados a recomeçar sempre e sempre;
como se, no fundo, tudo o que vivemos acabe por ser quase irrelevante.»
«Lá
está, essa é mais uma forma de misturar presente e futuro. Quando o que importa,
acho eu, é desligar o presente do passado e do futuro. Interessa o momento, em
si.»
«Mas o
momento apenas pode ser verdadeiramente valorizado quando enquadrado numa
continuidade, numa linha evolutiva. Cada momento, por si, isolado, vale pouco.
O que o valoriza e potencia, o que o intensifica, é o enquadramento. Este
momento, por exemplo. É um momento feliz, em si próprio. Mas o que o torna
verdadeiramente especial é tudo o que conduziu até aqui e tudo o que seguirá. O
cadenciar de momentos, a sequência.»
«Como
se a vida fosse um dominó. Conheço a perspectiva. As peças que se tocam, que
estão interligadas, que são interdependentes; que apenas cumprem a sua função
quando conjugadas com as outras peças, etc., etc., etc. Já reparaste que é uma
perspectiva que menoriza o valor individual de cada peça? Que insinua que
importa mais o conjunto do que a individualidade. Uma espécie de comunismo. E a
verdade é que não sei se concordo muito com isso. Percebo mas não concordo.»
«Esta
conversa faz-te feliz, mesmo que não tenha qualquer continuidade? Mesmo que
nunca mais nos vejamos? A possibilidade que daqui uns dias nos voltemos a
encontrar não contribui em nada para que este momento, o aqui e agora, seja
mais feliz?»
«Será
que concordamos em alguma coisa?»
«Sim.
Pelo menos numa coisa concordamos. Nisto.»
E beija-a.
Obrigado...
"«Serviços mínimos de felicidade», de Paulo Kellerman (Leiria, 1974) é um hino à angústia de uma mulher que sofre o acidente maior: o da própria filha que jaz inconsciente numa cama de hospital. Sentimos o seu monólogo interior com a força de um terramoto que conduz à ruína. Quando nos achamos sem abrigos o que resta, senão a honestidade que nos devemos. Eis o que mais me comoveu na obra, a autenticidade da voz desta mãe, agora sem a força de o ser, que não se poupa. Exaustiva, minuciosa e massacrante, mas também leve, distraída, errante e, por isso mesmo, redentora. A filha é sempre mencionada como P. . P de palavra impronunciável na dor indescritível de repetir o nome daquela que talvez não torne a abraçar. Lemos a noite mais longa. Não são as horas que custam a passar, até à certeza do que acontecerá ao seu amor maior. São os segundos. E enquanto os sente, de forma insuportável, numa dormência do corpo e dos sentimentos, entretém-se a «usar o pensamento para fugir» (pág. 31), projectando a sua vida numa tela privada, assistindo ao desenrolar da película da sua existência, na mais absoluta solidão. Conhecemos pormenores desde o momento decisivo da desgraça que estilhaçou as três vidas, passando pela construção da vida em comum com Afonso, o marido, pai de P., a quem mal conhece, até à trivialidade de um vestido bonito numa mulher sedutora, mais o encanto de algumas das paisagens que a habitam.
Qualquer momento é apropriado ao recomeço, inclusive, quando nos parecer que já morremos, muitas vezes, embora ainda não o tivéssemos constatado. Esta mulher fala-nos das suas várias mortes, consciencializando-se de cada uma delas, à medida que a atingem, implacáveis. Falta-nos o ar na maior parte das linhas.
É curioso que apenas Afonso, invisível nos afectos, seja identificado. Apenas o pai-condutor-responsável pode ser gritado, acusado, julgado. Identificar o desamor nos outros é mais fácil do que detectá-lo ao espelho. Eis que esta conversa, consigo mesma, a obrigará ao confronto com o que é, com o que julgava ser e lhe aparece agora desprovido de sentido, desfazendo, neste combate, todas as ilusões de poder ser alguma coisa através de terceiros.
Mais do que encontrar respostas para todas as questões que a narradora se coloca, importa repensar. Colocarmo-nos no seu lugar sem nome que é o de todos nós.
Se chegarmos àquele momento em que tudo muda, irremediavelmente, aquele que poderá ser o derradeiro, andámos a escolher o que desejávamos? O que podia ela ter feito diferente para não assassinar os sonhos da filha com pessimismo, realismo e afins? O que podia ela ter feito diferente para não ter desistido dos seus próprios sonhos? Sendo tarde para a filha, ainda o é para si?
Eis que o livro chega ao fim. Nos nossos olhos, silêncio, todavia, a sua música continua a tocar para nós, como nos auscultadores de P. logo após o desastre.
«Quem disse que terá de existir uma relação directa entre falar e amar?» (Pág. 62)
Talvez não haja. Sou parca em certezas. Tenho esta: este romance, que escava a esperança sob o desespero, é um acto de amor.
Obrigada, Paulo."
Felicidade
Apresentação de Serviços Mínimos de Felicidade. Por VEIA – Vertente Exploratória em Intervenção Artística.
Fotos de Gil Álvaro de Lemos.
Janelas
Oh menino, tenho mais
que fazer do que andar a queixar-me. Desculpe lá chamar-lhe menino, mas é por
causa do olhar. Tem um olhar de criança, e isso é raro. O mais comum é
encontrar olhares de velho, sejam velhos ou não; aquele olhar de quem está desinteressado
no que vê, um olhar virado para dentro. E vivo num lar, certo?, é natural que
esteja rodeada de gente com olhar de velho. Quando encontro alguém com olhar de
criança é uma festa porque é bom ser mesmo
vista e não apenas olhada. Mas acabei de dizer que tenho mais que fazer do que
queixar-me, e aqui estou eu a queixar-me. Enfim, não há mal nenhum em ser
contraditória, antes isso que estar cheia de certezas. Aqui, as pessoas têm
muitas certezas, é uma coisa que piora com a idade. E são todos velhos não só de
corpo mas também de espírito. Alguns até já estão mortos mas ainda não o
perceberam; é como se esperassem uma oficialização. No fundo, são pessoas
respeitadoras de preceitos e burocracias, precisam de papéis para tudo; até
para morrer. Mas não ligue, menino. Por vezes dá-me para a tolice. A tolice é
como uma janela, não concorda? Se não a abrimos de vez em quando, é como se
estivéssemos sempre fechados numa sala escura. O sonho também é uma janela, e
essa devia estar sempre aberta. É verdade que tenho sessenta e oito anos mas não
será isso que me impedirá de sonhar. Quer saber o que sonho? Tolices, claro; acho
que são duas janelas que se comunicam, a do sonho e a da tolice. Olhe, sonho
com rojões, nunca fazem disso aqui; ou com filhós de abóbora. Sabe aquilo que se
diz sobre tratarem os velhos como crianças? Passa-se muito na alimentação, é
triste uma pessoa não poder comer o que deseja. Que mal há em rojões e filhós?
Mas se falo nisso, olham-me como se fosse doida, dizem: coma lá o iogurtinho,
que lhe faz bem. Enfim. Sonho que alguns dos meus antigos alunos me venham
visitar. Sonho com o meu filho, que está no estrangeiro, e com o meu marido,
que morreu há três anos; sonho com eles quando durmo, e então acordo com um
sorriso; ou sonho com eles quando estou acordada, e então sorrio na mesma.
Sonho com excursões à Serra da Estrela ou ao Alentejo. Aqui, apenas fazem
excursões a Fátima, não sei bem porquê. Sonho estar rodeada por gente que
encare a velhice de forma menos dramática e egoísta, gente que não passe a vida
a dar com as muletas na cabeça das auxiliares e a fazer escarcéus por causa da
comida e dos remédios. Sonho não ter dores. E por vezes até sonho com um mundo
melhorzito, mas estão a dar cabo disto tudo e uma pessoa vai perdendo
esperança. Até deixei de ler jornais, davam-me azia. E de ver os telejornais. Aos
domingos vêm aí as visitas e por vezes trazem garotos. Faz-me impressão, estão
sempre agarrados aos telemóveis; e isso ainda é mais triste do que ver os
telejornais. Houve aí uma assistente social que andou a criar facebooks para os
velhos. Então certo dia um velho fez uma birra porque queria um telemóvel igual
ao do neto para ir ao facebook e o filho não lho dava. Já viu? Este mundo está
a ficar um bocado estrampalhado, menino. E nem a sonhar uma pessoa consegue
sair da sala escura. Enfim. Mas fale-me de si, diga-me tolices. Não foi meu
aluno, pois não?
(Crónica para o Jornal de Leiria.)
Calou-se. Saiu. Saltei.
O filme "Calou-se. Saiu. Saltei" (2014), de Bruno Carnide, e cujo argumento escrevi, pode ser visto integral e gratuitamente.
Subscrever:
Mensagens (Atom)