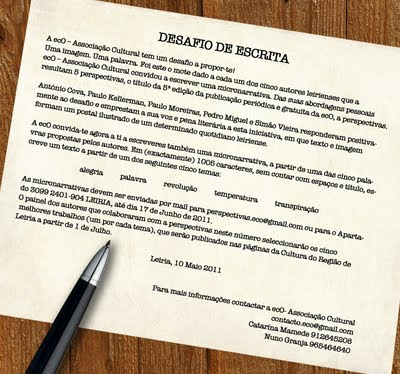Quando ela o viu entrar no bar, reconheceu-o imediatamente; teriam passado uns oito anos, talvez nove – não: oito; definitivamente –, desde o ano em que lhe dera aulas de língua portuguesa durante alguns meses, como professora de substituição, e nunca mais o vira, nunca mais pensara nele; ainda assim, reconheceu-o inequivocamente mal o viu, teve a certeza de que era um antigo aluno, conseguiu visualizá-lo de imediato (um rapaz envergonhado que nunca falava, nunca sorria, que se sentava a uma mesa recuada e olhava muito pela janela). Foi saboreando a bebida enquanto o espreitava, tentando calcular a sua idade – vinte e sete ou vinte e oito, algures por aí – e apreciando a sua desenvoltura e a forma confiante como circulava pelo bar, estudando o seu corpo, o seu sorriso, as suas mãos; (recordou, de súbito, que fora nesse ano lectivo que casara mas logo se concentrou em afastar essa memória, em focalizar-se no presente). Tentou perceber se o rapaz aguardava alguém, ou se era esperado por alguém, enquanto tentava lembrar o seu nome, enquanto se perguntava se ele a recordaria, se a olharia com interesse ou com agastamento, se gostaria de a reencontrar; enquanto ponderava, especialmente, se seria demasiado estranho e degenerado e desesperado ir para a cama com um ex-aluno.
Quando terminou a bebida (olhou distraidamente em redor, tentando perceber se alguém lhe viria oferecer outra; mas ninguém reparara em si, ninguém iria gastar três euros e cinquenta cêntimos consigo), decidiu que quando recordasse o nome dele, o abordaria e logo se veria como correria a conversa, logo se veria se as suas necessidades momentâneas seriam compatíveis ou não; pensava, por isso, em nomes – António, Diogo, Carlos, Francisco, Duarte, João, Afonso, Miguel, Tiago; como são banais e indistinguíveis os nomes, pensava ela: como se o nome de alguém não fizesse, afinal, grande diferença, nenhuma diferença –, tentando associar qualquer um desses nomes àquele rosto sereno e belo, tão jovem. Sim, iria abordá-lo, esperando que aquela ténue ligação mantida num passado distante e quase esquecido fosse suficiente para sustentar e impulsionar uma relação, mesmo que fugaz, no presente.
– Estás bom, João?
– Desculpe, mas conheço-a?
– Será que estou assim tão diferente? Não vais dizer que estou velha, pois não?
– Oh senhora, vai-me desculpar mas…
– Bolas, João. Não me chames senhora, que me fazes sentir ainda mais velha do que realmente sou.
– Não queria ofendê-la mas não estou a ver de onde…
– Fui tua professora, há uns anitos. Língua portuguesa, décimo segundo ano; professora de substituição, estivemos juntos apenas um trimestre. Mas lembro-me muito bem de ti, João; lembro-me que não ouvias nada do que dizia, que passavas o tempo a olhar pela janela.
– Stora Patrícia?
– Que querido, afinal até te lembras do meu nome.
– Está diferente, stora. Mesmo diferente.
– Para melhor, espero.
– Claro, claro que sim. Para melhor.
– E gostas do que vês?
– Desculpe?
– Gostas do que vês?
– Acho que sim, stora, acho que gosto.
– A sério? Bom, se me ofereceres uma bebida, podes tratar-me por tu.
– Ok. Sabe, se usasse esse tipo de roupa nas aulas, de certeza que eu não teria olhado tanto pela janela; suponho que foi por isso que não a reconheci. A roupa muda tudo, altera as pessoas; disfarça-as um pouco. Mas bebe o quê, stora?
Beberam e riram durante um bocado, trocando recordações e insinuações, piadinhas, olhares. Ela percebeu como ele ficou um pouco perturbado quando consciencializou que a noite iria terminar em sexo, que era isso – apenas isso? – que ela desejava dele; talvez até se tenha sentido desconfortável ao compreender que estava a ser um pouco manipulado, que iria servir como mera distracção de uma quarentona solitária. Mas também percebeu que ele estava curioso, que estava interessado; e sentiu-se lisonjeada, sentiu-se leve e confortável, sentiu-se feliz. Mais que tudo: sentiu-se aliviada.
Foi ela que pagou a conta, foi ela que decidiu para onde iriam; ele submeteu-se à sua liderança sem protestos nem sugestões, como se ainda estivessem na sala de aula, como se ainda existisse uma hierarquia a uni-los. Durante a viagem, tentaram falar um pouco da matéria que ela lhe ensinara e de que ele não recordava absolutamente nada, falaram do que ele sentia quando olhava pela janela e do que ela sentia quando via os alunos olharem pela janela; ela falou do seu casamento fracassado e ele falou dos seus namoros fracassados – ela teve a sensação que ele estava a exagerar, que as suas relações não teriam sido assim tão fracassadas, e sentiu-se comovida com o esforço dele. Falaram um pouco de música e bares, de filmes, de sítios interessantes para passar férias; falaram do facto de estarem a fazer algo que habitualmente não faziam – engatar pessoas num bar, colocar a necessidade de sexo à frente de tudo – mas não se esforçaram em justificar os seus actos. Falaram do tempo. Falaram do estado do país e de política e da crise e dos problemas dos professores e do desemprego dos licenciados. Falaram do facto de haver dezasseis anos de diferença a separá-los – ele disse que ela estava muito bem para a idade que tinha, mesmo mesmo bem, e ela quase acreditou.
Por fim, chegaram ao bairro onde ela vivia desde o divórcio (deram uma voltas em busca de um lugar para estacionar; e ambos sentiram que se não aparecesse rapidamente um lugar, o desconforto cresceria até se tornar insuportável, talvez tivessem que abortar o projecto, esquecer aquela noite). Ela conduziu-o ao seu apartamento, depois de subirem sete andares de elevador no mais completo silêncio, afastados um do outro, como se fossem desconhecidos – na verdade, eram desconhecidos. Entraram e durante um instante não souberam o que fazer, como começar. Não conseguiram, sequer, olhar o outro, enfrentar o olhar do outro.
Então, ela disse uma coisa absolutamente parva: vamos lá ver se mereceres um vinte. Ele sorriu, embaraçado – apenas embaraçado e não intimidado; aproximou-se e tocou-a, pela primeira vez; tocou-a no peito, que por acaso era onde ela queria mesmo ser tocada – um dos sítios em que queria ser tocada, na verdade; afastou-lhe a roupa, que fora escolhida considerando o grau de facilidade com que poderia ser removida, e baixou a cabeça com naturalidade, passou a língua pelo mamilo; ela fechou os olhos, quase sorriu; ele movimentou a língua com perícia, ela gemeu um pouco (achou que ele deveria estar à espera de um gemido); e etc., pela noite fora.
Quando terminaram, sentiram-se confusos e desconfortáveis, prisioneiros da escuridão e do silêncio que os envolvia, dos seus próprios cheiros, do eco dos seus gemidos mais ou menos forçados; sentiram-se quase à beira do arrependimento; e por isso (para se manterem ocupados, para se distraírem), também porque não havia absolutamente mais nada que pudessem fazer, foderam de novo.
E enquanto o faziam, com empenho e voracidade, fustigando os corpos – como se tentassem expulsar deles a apatia e a indiferença, forçando-os a sentir qualquer coisa, a reagir –, pensavam no que aconteceria depois, no que fariam e diriam, na forma como se olhariam, ambos percebendo que aquela relação – que ainda não era propriamente uma relação; que, na verdade, nunca chegaria a ser uma relação – estava condenada; ambos recordaram relacionamentos anteriores (fracassos anteriores), em que se sentiam prisioneiros porque deixara de existir comunicação possível (não havia nada a dizer ou a escutar), relacionamentos tão estáticos que seria necessário um sismo para os fazer mover nalguma direcção, e perguntavam-se como fora possível deixarem-se arrastar para uma nova situação sem futuro.
Iam simplesmente fodendo, mentes absortas enquanto os corpos interagiam – pensado, talvez, como serão infelizes aquelas pessoas que juram ser incapazes de fazer sexo quando não existe amor e ternura e cumplicidade e tralará; como conseguirão? –, ignorando que afinal havia algo a uni-los, a aproximá-los: a incapacidade e inépcia em se relacionar com alguém (e se, simplesmente, conversassem sobre isso? Poderiam partir daí e seguir em frente, sem pressa).
– Obrigada, João.
– Porquê?
– Por teres vindo. Por teres ficado. A sério, João. Obrigada.
– Não digas isso. Sinto-me esquisito.
– A sério, nem imaginas como me tenho sentido só e desapreciada. Foi muito importante, isto. Não imaginas, mesmo.
(Nem ela própria conseguia perceber se estava a ser totalmente sincera, ou pelo menos um bocadinho sincera; talvez precisasse apenas de se sentir agradecida, bastando verbalizar esse sentimento – se o conseguia verbalizar, talvez existisse mesmo. Afinal, a partir do momento em que se diz algo, deixa de importar se efectivamente se sente o que se acabou de se expressar; não é? Se está dito, dito está, end of story.)
– Olha, já que estamos a falar e assim, queria confessar uma coisa.
– Confessar? Confessar o quê, João?
– A verdade é que não me chamo João. Desculpa.
– Não?
– Não.
– Não te chamas João?
– Não. Desculpa não ter dito antes.
– Tinha a certeza que te chamavas João. Quase a certeza.
– Não faz mal.
– Pois não. Acho que não faz mal.
(E como ela não lhe perguntou qual era afinal o seu nome, ele sentiu-se um pouco envergonhado e não foi capaz de dizer mais nada.)
Tinham dormido um pouco, ou fingido que dormiam; entretanto, amanhecera. Estavam na varanda, partilhando um cigarro (excesso de intimidade, talvez?), quando ela fizera uma pergunta inesperada (costumavas imaginar-me nua, imaginar como seria o meu corpo, quando te dava aulas?) a que ele respondera sem pensar, instintivamente (claro que sim); ela percebeu a mentira e sentiu-se magoada, ele percebeu que ela estava magoada e sentiu-se verdadeiramente arrependido de estar ali (afinal, pensou lugubremente, uma boa foda – sim, fora boa – não vale tudo). Depois disso, não conseguiram voltar a dialogar, limitando-se a dividir o cigarro (e que aconteceria, o que fariam, quando o cigarro terminasse?); compreendiam que precisavam de iniciar o processo de separação, que seria necessariamente diplomático e hipócrita, mas não sabiam como. (Ele queria simplesmente dizer: olha, foi bastante bom mas tenho que ir, ok?; ela gostaria de dizer: dou-te um dez e meio, está bem?)
Poderiam retomar um dos assuntos da noite anterior mas, na verdade, já tudo fora dito; poderiam, talvez, fazer planos para o pequeno-almoço ou até fantasiar sobre uma qualquer viagem que fariam em conjunto (planeá-la com fingido entusiasmo, na certeza de que jamais a realizariam), perspectivar um próximo encontro, algures; poderiam confessar o que tinham considerado mais surpreendente no desempenho sexual do outro, confessar o que ainda gostariam de fazer com o corpo do outro; poderiam falar sobre o tempo, do estado do país e de política e da crise e dos problemas dos professores e do desemprego dos licenciados; e dos falsos recibos verdes. Poderiam esforçar-se: mas não conseguiam, não quiseram. E, por isso, limitavam-se a partilhar o cigarro, a soprar o fumo, a olhar em frente, a respirar silenciosamente; à espera que acontecesse algo, qualquer coisa que os salvasse, uma distracção, um pretexto de conversa, uma fuga; qualquer coisa.
Primeiro, ouviram um barulho estranho que não conseguiram identificar e, logo depois, viram o avião; viram como estava demasiado próximo, demasiado baixo; viram que havia uma asa em chamas, um rasto de fumo preto; viram que o avião ia cair na cidade, mesmo em cima da cidade, ali pertinho, que estava tão baixo que jamais conseguiria chegar ao aeroporto; viram quando embateu no chão, mesmo perante eles, no meio da auto-estrada, numa tentativa fracassada de aterragem forçada; viram como se arrastou, como embateu numa ponte, como explodiu tal e qual como acontece nos filmes. Não viram mas imaginaram pessoas a gritar, pessoas a chorar, pessoas a desesperar, pessoas a explodir, pessoas a morrer.
E sentiram-se agradecidos (apesar de horrorizados) porque agora havia um pretexto para suspender o desconforto que sentiam, para se esquecerem de si próprios durante uns minutos; não precisariam de falar do pequeno-almoço, de fingir que iriam voltar a estar juntos. Não precisariam de se expor, de se vulnerabilizar, agora que havia algo externo a uni-los; bastaria, por isso, deslumbrarem-se um pouco com aquela desgraça e, quando chegasse o momento, voltar a acender um cigarro; entretanto, o tempo passaria e, naturalmente, chegaria o momento da separação (ela ficaria a arrumar e a arejar o apartamento, ligaria a máquina de lavar, talvez comesse um iogurte; ele teria de chamar um táxi, demoraria algum tempo a escapar à confusão do trânsito provocada pelo acidente mas lá acabaria por chegar a casa).
Mais um dia, mais uma foda, mais algumas horas gastas; e a vida a prosseguir.
– Achas que morreu muita gente?
– De certeza.
– Coitados. Tenho pena das famílias. E também das pessoas que agora vão ter que andar pela auto-estrada a apanhar os pedaços de corpos.
– O trânsito vai ficar fechado durante dias, vai ser uma confusão.
– E de certeza que não vão conseguir recolher tudo. Já imaginaste passares ali daqui uma semana ou duas e teres a sensação que acabaste de pisar um pedaço de osso ou de crânio?
– Se calhar, quando um avião se incendeia e explode, os corpos das pessoas também se incendeiam e explodem, transformando-se em cinzas.
– Achas que terá sido um atentado?
– Duvido.
– Já alguma vez pensaste como gostarias de morrer?
– Não, nem por isso. Vou para dentro, ver o que estão a dizer na televisão sobre o acidente. Ficas?
Cento e catorze mortos, ao que parece. Foi o que disseram na televisão.
Talvez até possam falar disso, agora que sabem mais detalhes sobre o acidente (cento e catorze, já imaginaste? Mesmo ali à nossa frente, a caírem mesmo perante nós, como se fosse uma chuvada ou assim), caso um dia se voltem a cruzar num qualquer bar.
(Num jornal qualquer foi publicada a lista dos cento e catorze nomes; mas nenhum deles reparou, nenhum deles se interessou – na verdade, alguém teria lido os cento e catorze nomes? –. Afinal, eram apenas nomes; e como são banais e indistinguíveis os nomes, pensariam eles, pensa toda a gente: como se o nome de alguém não fizesse, afinal, grande diferença, nenhuma diferença.)
Quando terminou a bebida (olhou distraidamente em redor, tentando perceber se alguém lhe viria oferecer outra; mas ninguém reparara em si, ninguém iria gastar três euros e cinquenta cêntimos consigo), decidiu que quando recordasse o nome dele, o abordaria e logo se veria como correria a conversa, logo se veria se as suas necessidades momentâneas seriam compatíveis ou não; pensava, por isso, em nomes – António, Diogo, Carlos, Francisco, Duarte, João, Afonso, Miguel, Tiago; como são banais e indistinguíveis os nomes, pensava ela: como se o nome de alguém não fizesse, afinal, grande diferença, nenhuma diferença –, tentando associar qualquer um desses nomes àquele rosto sereno e belo, tão jovem. Sim, iria abordá-lo, esperando que aquela ténue ligação mantida num passado distante e quase esquecido fosse suficiente para sustentar e impulsionar uma relação, mesmo que fugaz, no presente.
– Estás bom, João?
– Desculpe, mas conheço-a?
– Será que estou assim tão diferente? Não vais dizer que estou velha, pois não?
– Oh senhora, vai-me desculpar mas…
– Bolas, João. Não me chames senhora, que me fazes sentir ainda mais velha do que realmente sou.
– Não queria ofendê-la mas não estou a ver de onde…
– Fui tua professora, há uns anitos. Língua portuguesa, décimo segundo ano; professora de substituição, estivemos juntos apenas um trimestre. Mas lembro-me muito bem de ti, João; lembro-me que não ouvias nada do que dizia, que passavas o tempo a olhar pela janela.
– Stora Patrícia?
– Que querido, afinal até te lembras do meu nome.
– Está diferente, stora. Mesmo diferente.
– Para melhor, espero.
– Claro, claro que sim. Para melhor.
– E gostas do que vês?
– Desculpe?
– Gostas do que vês?
– Acho que sim, stora, acho que gosto.
– A sério? Bom, se me ofereceres uma bebida, podes tratar-me por tu.
– Ok. Sabe, se usasse esse tipo de roupa nas aulas, de certeza que eu não teria olhado tanto pela janela; suponho que foi por isso que não a reconheci. A roupa muda tudo, altera as pessoas; disfarça-as um pouco. Mas bebe o quê, stora?
Beberam e riram durante um bocado, trocando recordações e insinuações, piadinhas, olhares. Ela percebeu como ele ficou um pouco perturbado quando consciencializou que a noite iria terminar em sexo, que era isso – apenas isso? – que ela desejava dele; talvez até se tenha sentido desconfortável ao compreender que estava a ser um pouco manipulado, que iria servir como mera distracção de uma quarentona solitária. Mas também percebeu que ele estava curioso, que estava interessado; e sentiu-se lisonjeada, sentiu-se leve e confortável, sentiu-se feliz. Mais que tudo: sentiu-se aliviada.
Foi ela que pagou a conta, foi ela que decidiu para onde iriam; ele submeteu-se à sua liderança sem protestos nem sugestões, como se ainda estivessem na sala de aula, como se ainda existisse uma hierarquia a uni-los. Durante a viagem, tentaram falar um pouco da matéria que ela lhe ensinara e de que ele não recordava absolutamente nada, falaram do que ele sentia quando olhava pela janela e do que ela sentia quando via os alunos olharem pela janela; ela falou do seu casamento fracassado e ele falou dos seus namoros fracassados – ela teve a sensação que ele estava a exagerar, que as suas relações não teriam sido assim tão fracassadas, e sentiu-se comovida com o esforço dele. Falaram um pouco de música e bares, de filmes, de sítios interessantes para passar férias; falaram do facto de estarem a fazer algo que habitualmente não faziam – engatar pessoas num bar, colocar a necessidade de sexo à frente de tudo – mas não se esforçaram em justificar os seus actos. Falaram do tempo. Falaram do estado do país e de política e da crise e dos problemas dos professores e do desemprego dos licenciados. Falaram do facto de haver dezasseis anos de diferença a separá-los – ele disse que ela estava muito bem para a idade que tinha, mesmo mesmo bem, e ela quase acreditou.
Por fim, chegaram ao bairro onde ela vivia desde o divórcio (deram uma voltas em busca de um lugar para estacionar; e ambos sentiram que se não aparecesse rapidamente um lugar, o desconforto cresceria até se tornar insuportável, talvez tivessem que abortar o projecto, esquecer aquela noite). Ela conduziu-o ao seu apartamento, depois de subirem sete andares de elevador no mais completo silêncio, afastados um do outro, como se fossem desconhecidos – na verdade, eram desconhecidos. Entraram e durante um instante não souberam o que fazer, como começar. Não conseguiram, sequer, olhar o outro, enfrentar o olhar do outro.
Então, ela disse uma coisa absolutamente parva: vamos lá ver se mereceres um vinte. Ele sorriu, embaraçado – apenas embaraçado e não intimidado; aproximou-se e tocou-a, pela primeira vez; tocou-a no peito, que por acaso era onde ela queria mesmo ser tocada – um dos sítios em que queria ser tocada, na verdade; afastou-lhe a roupa, que fora escolhida considerando o grau de facilidade com que poderia ser removida, e baixou a cabeça com naturalidade, passou a língua pelo mamilo; ela fechou os olhos, quase sorriu; ele movimentou a língua com perícia, ela gemeu um pouco (achou que ele deveria estar à espera de um gemido); e etc., pela noite fora.
Quando terminaram, sentiram-se confusos e desconfortáveis, prisioneiros da escuridão e do silêncio que os envolvia, dos seus próprios cheiros, do eco dos seus gemidos mais ou menos forçados; sentiram-se quase à beira do arrependimento; e por isso (para se manterem ocupados, para se distraírem), também porque não havia absolutamente mais nada que pudessem fazer, foderam de novo.
E enquanto o faziam, com empenho e voracidade, fustigando os corpos – como se tentassem expulsar deles a apatia e a indiferença, forçando-os a sentir qualquer coisa, a reagir –, pensavam no que aconteceria depois, no que fariam e diriam, na forma como se olhariam, ambos percebendo que aquela relação – que ainda não era propriamente uma relação; que, na verdade, nunca chegaria a ser uma relação – estava condenada; ambos recordaram relacionamentos anteriores (fracassos anteriores), em que se sentiam prisioneiros porque deixara de existir comunicação possível (não havia nada a dizer ou a escutar), relacionamentos tão estáticos que seria necessário um sismo para os fazer mover nalguma direcção, e perguntavam-se como fora possível deixarem-se arrastar para uma nova situação sem futuro.
Iam simplesmente fodendo, mentes absortas enquanto os corpos interagiam – pensado, talvez, como serão infelizes aquelas pessoas que juram ser incapazes de fazer sexo quando não existe amor e ternura e cumplicidade e tralará; como conseguirão? –, ignorando que afinal havia algo a uni-los, a aproximá-los: a incapacidade e inépcia em se relacionar com alguém (e se, simplesmente, conversassem sobre isso? Poderiam partir daí e seguir em frente, sem pressa).
– Obrigada, João.
– Porquê?
– Por teres vindo. Por teres ficado. A sério, João. Obrigada.
– Não digas isso. Sinto-me esquisito.
– A sério, nem imaginas como me tenho sentido só e desapreciada. Foi muito importante, isto. Não imaginas, mesmo.
(Nem ela própria conseguia perceber se estava a ser totalmente sincera, ou pelo menos um bocadinho sincera; talvez precisasse apenas de se sentir agradecida, bastando verbalizar esse sentimento – se o conseguia verbalizar, talvez existisse mesmo. Afinal, a partir do momento em que se diz algo, deixa de importar se efectivamente se sente o que se acabou de se expressar; não é? Se está dito, dito está, end of story.)
– Olha, já que estamos a falar e assim, queria confessar uma coisa.
– Confessar? Confessar o quê, João?
– A verdade é que não me chamo João. Desculpa.
– Não?
– Não.
– Não te chamas João?
– Não. Desculpa não ter dito antes.
– Tinha a certeza que te chamavas João. Quase a certeza.
– Não faz mal.
– Pois não. Acho que não faz mal.
(E como ela não lhe perguntou qual era afinal o seu nome, ele sentiu-se um pouco envergonhado e não foi capaz de dizer mais nada.)
Tinham dormido um pouco, ou fingido que dormiam; entretanto, amanhecera. Estavam na varanda, partilhando um cigarro (excesso de intimidade, talvez?), quando ela fizera uma pergunta inesperada (costumavas imaginar-me nua, imaginar como seria o meu corpo, quando te dava aulas?) a que ele respondera sem pensar, instintivamente (claro que sim); ela percebeu a mentira e sentiu-se magoada, ele percebeu que ela estava magoada e sentiu-se verdadeiramente arrependido de estar ali (afinal, pensou lugubremente, uma boa foda – sim, fora boa – não vale tudo). Depois disso, não conseguiram voltar a dialogar, limitando-se a dividir o cigarro (e que aconteceria, o que fariam, quando o cigarro terminasse?); compreendiam que precisavam de iniciar o processo de separação, que seria necessariamente diplomático e hipócrita, mas não sabiam como. (Ele queria simplesmente dizer: olha, foi bastante bom mas tenho que ir, ok?; ela gostaria de dizer: dou-te um dez e meio, está bem?)
Poderiam retomar um dos assuntos da noite anterior mas, na verdade, já tudo fora dito; poderiam, talvez, fazer planos para o pequeno-almoço ou até fantasiar sobre uma qualquer viagem que fariam em conjunto (planeá-la com fingido entusiasmo, na certeza de que jamais a realizariam), perspectivar um próximo encontro, algures; poderiam confessar o que tinham considerado mais surpreendente no desempenho sexual do outro, confessar o que ainda gostariam de fazer com o corpo do outro; poderiam falar sobre o tempo, do estado do país e de política e da crise e dos problemas dos professores e do desemprego dos licenciados; e dos falsos recibos verdes. Poderiam esforçar-se: mas não conseguiam, não quiseram. E, por isso, limitavam-se a partilhar o cigarro, a soprar o fumo, a olhar em frente, a respirar silenciosamente; à espera que acontecesse algo, qualquer coisa que os salvasse, uma distracção, um pretexto de conversa, uma fuga; qualquer coisa.
Primeiro, ouviram um barulho estranho que não conseguiram identificar e, logo depois, viram o avião; viram como estava demasiado próximo, demasiado baixo; viram que havia uma asa em chamas, um rasto de fumo preto; viram que o avião ia cair na cidade, mesmo em cima da cidade, ali pertinho, que estava tão baixo que jamais conseguiria chegar ao aeroporto; viram quando embateu no chão, mesmo perante eles, no meio da auto-estrada, numa tentativa fracassada de aterragem forçada; viram como se arrastou, como embateu numa ponte, como explodiu tal e qual como acontece nos filmes. Não viram mas imaginaram pessoas a gritar, pessoas a chorar, pessoas a desesperar, pessoas a explodir, pessoas a morrer.
E sentiram-se agradecidos (apesar de horrorizados) porque agora havia um pretexto para suspender o desconforto que sentiam, para se esquecerem de si próprios durante uns minutos; não precisariam de falar do pequeno-almoço, de fingir que iriam voltar a estar juntos. Não precisariam de se expor, de se vulnerabilizar, agora que havia algo externo a uni-los; bastaria, por isso, deslumbrarem-se um pouco com aquela desgraça e, quando chegasse o momento, voltar a acender um cigarro; entretanto, o tempo passaria e, naturalmente, chegaria o momento da separação (ela ficaria a arrumar e a arejar o apartamento, ligaria a máquina de lavar, talvez comesse um iogurte; ele teria de chamar um táxi, demoraria algum tempo a escapar à confusão do trânsito provocada pelo acidente mas lá acabaria por chegar a casa).
Mais um dia, mais uma foda, mais algumas horas gastas; e a vida a prosseguir.
– Achas que morreu muita gente?
– De certeza.
– Coitados. Tenho pena das famílias. E também das pessoas que agora vão ter que andar pela auto-estrada a apanhar os pedaços de corpos.
– O trânsito vai ficar fechado durante dias, vai ser uma confusão.
– E de certeza que não vão conseguir recolher tudo. Já imaginaste passares ali daqui uma semana ou duas e teres a sensação que acabaste de pisar um pedaço de osso ou de crânio?
– Se calhar, quando um avião se incendeia e explode, os corpos das pessoas também se incendeiam e explodem, transformando-se em cinzas.
– Achas que terá sido um atentado?
– Duvido.
– Já alguma vez pensaste como gostarias de morrer?
– Não, nem por isso. Vou para dentro, ver o que estão a dizer na televisão sobre o acidente. Ficas?
Cento e catorze mortos, ao que parece. Foi o que disseram na televisão.
Talvez até possam falar disso, agora que sabem mais detalhes sobre o acidente (cento e catorze, já imaginaste? Mesmo ali à nossa frente, a caírem mesmo perante nós, como se fosse uma chuvada ou assim), caso um dia se voltem a cruzar num qualquer bar.
(Num jornal qualquer foi publicada a lista dos cento e catorze nomes; mas nenhum deles reparou, nenhum deles se interessou – na verdade, alguém teria lido os cento e catorze nomes? –. Afinal, eram apenas nomes; e como são banais e indistinguíveis os nomes, pensariam eles, pensa toda a gente: como se o nome de alguém não fizesse, afinal, grande diferença, nenhuma diferença.)