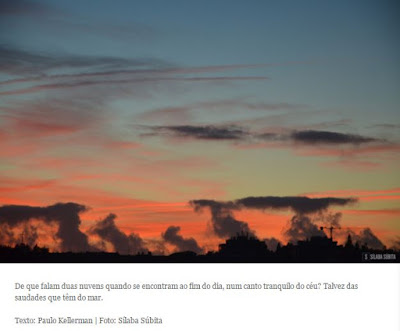12 + 12 + 12 = 2018
Doze meses, doze fotos de Sílvia Bernardino, doze textos. Um calendário para 2018. À venda na Improviso.
Libelinhas
"Se é para chorar, que seja à noite e pronto, tenho almofadas bem boas para isso. E ninguém precisa de aturar as minhas dores, ok?"
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Maria João Alves.
Libelinhas
"No fundo, todos nós passamos a vida à espera. Ou não é? Estamos sempre à espera de qualquer coisa. Sempre. Geralmente, coisas sem importância. Coisas que nos parecem fundamentais mas que são apenas distracções. O verdadeiro luxo é não esperar nada. Não ter de esperar. Acho eu."
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Mónica Brandão.
Libelinhas
"Sentes-te completamente abandonado, mesmo que saibas que estás rodeado por centenas de pessoas, sentes a sua presença, o seu cheiro; imagina um cheiro tão intenso que te aperta o estômago e te magoa quando respiras. É o cheiro do desespero. Consegues imaginar?"
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Teresa Marques dos Santos.
Libelinhas
"Já reparaste que pedir algo a alguém é uma forma de submissão? De te colocares nas mãos do outro? De certa forma, para pedir algo é preciso ser corajoso."
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Ana Gilbert.
Libelinhas
"Se calhar a esperança é uma forma de resignação, se calhar a resignação é uma forma de esperança. Sei lá."
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Rita Fernandes.
Libelinhas
"Enquanto houver choro, há vida, há resistência, há esperança. O choro é a última coisa a morrer, e enquanto não morrer tudo é possível."
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Ana Marques.
Asas
Houve um rapaz que conheceu uma rapariga. Ele apaixonou-se, ela nem por isso; mas ele só percebeu mais tarde: quando lhe ofereceu uma flor. É que não havia transportes, tudo isto se passou no tempo em que se andava a pé. Ele vivia numa aldeia, ela noutra; pelo meio, muitos quilómetros de distância. Isso não o preocupava, sempre ouvira dizer que o amor é cego (mentira) e que dá asas (talvez), o que é bom para quem tem de andar a pé. Num domingo levantou-se cedo e foi ao jardim da mãe, andou às voltas até decidir qual era a flor mais bonita, apanhou-a cuidadosamente e pôs-se a caminho. Ia pensando no que poderia acontecer quando oferecesse a sua flor (sonhava acordado, e isso é que dá asas: o sonho); por vezes, interrogava-se se teria escolhido a flor certa; se haveria uma flor certa. Ia tão distraído com os seus pensamentos que nem reparou quando apareceu a primeira borboleta, nem a segunda nem a terceira; só percebeu que algo anormal estava a acontecer quando já voavam mais de vinte borboletas à sua volta. Caminhava pelos campos desertos e silenciosos, agarrando a sua flor com delicadeza; e atrás de si, atrás do perfume da sua flor, seguia um rasto de borboletas. Achou estranho porque nunca vira borboletas no jardim da mãe mas decidiu que não haveria problema em chegar ao seu destino tão bem acompanhado. Quando entrou na aldeia, segurando orgulhosamente a flor, era seguido por mais de mil borboletas; formavam uma espécie de arco-íris vivo e fluido, mutante; era uma coisa bonita de se ver. Havia no ar um leve murmúrio provocado pelo bater de todas aquelas asas; como se fosse uma oração. As pessoas da aldeia vieram espreitar tão estranha procissão, escutar tão rara prece; algumas aplaudiram, outras benzeram-se; todas em silêncio, talvez fascinadas, talvez assustadas. Por fim, o rapaz chegou à porta da casa da rapariga. Ela saiu, olhou as borboletas, abanou a cabeça. Ele aproximou-se e estendeu a mão com a flor, como se fosse a mais preciosa das dádivas. As borboletas voavam em círculos, os vizinhos observavam. Ele aguardou pelo sorriso com que sonhara, a mão estendida, a flor à espera. Mas ela não a segurou; disse, num tom rabugento: não me trouxeste nada para comer? Nesse momento, as borboletas entraram em alvoroço e voaram freneticamente, formando uma espécie de tornado; desapareceram em poucos segundos. Ficou o silêncio, e nada mais. Ela regressou a casa, ele percebeu que o amor pode dar asas mas também é muito estúpido. Abandonou a aldeia apressadamente, indiferente aos ocasionais risos da audiência. Como não tinha nada melhor para fazer, foi contando os passos que dava. Quando chegou a oitocentos e dezoito sentiu vontade de se deitar na erva fofa e dormir, porque contar passos ainda era mais eficaz que contar ovelhas; nunca vira uma ovelha mas sabia que existiam; tal como o amor: nunca o vira mas sempre contara com ele, sabia que certamente existiria. Chegou de madrugada e a primeira coisa que fez foi devolver a flor ao jardim da mãe, depositando-a sobre a relva humedecida pelo orvalho; talvez ressuscitasse. Depois foi para o seu quarto e adormeceu. Sonhou com borboletas.
Crónica para o Jornal de Leiria.
Libelinhas
"Viver é esperar."
Libelinhas | Encenação de Pedro Oliveira para O Nariz.
Foto de Teresa Bret Afonso.
Preocupações engarrafadas
Trouxe uma garrafa consigo. Toda a gente olhava para a garrafa e pensava que estava vazia; por isso é que permitiram que passasse no aeroporto: parecia mesmo vazia. Mas não estava, apenas ele sabia que não estava. Antes de partir, passara algumas horas fechado em casa, apenas ele e o escuro, o silêncio, os minutos a passarem; e a garrafa. Encheu-a com as suas preocupações. Não admitiria a ninguém, era um segredo (e não queria que lhe chamassem tolo, ou pior), mas foi o que fez: pensou nas suas preocupações, uma a uma, e enquanto as pensava tentou encerrá-las na garrafa, prendê-las lá. Preocupações engarrafadas. Descobrira há muito que as suas preocupações precisavam de espaço para viver e crescer, tratava-se de uma simples lei da física (a sétima de Newton ou assim); e quando fizera essa descoberta, especulou que nada obrigaria a que o espaço onde as suas preocupações cresciam e se multiplicavam fosse sempre o mesmo: o seu cérebro, o seu espírito. No fundo, as preocupações eram matéria, uma matéria indefinida e volúvel, mas nada mais do que matéria; e a matéria é transportável, transferível. Uma simples lei da física, diria a quem o ouvisse se alguma vez pudesse falar de tão peculiar assunto. Foi por isso que começou a transferir as suas preocupações do cérebro para garrafas. Sentia-se mais leve, mais livre. Despreocupado. E quando viajava, levava uma dessas garrafas consigo, para se poder livrar definitivamente das preocupações que lá guardara (quando as mantinha em casa, já acontecera algumas vezes uma delas quebrar-se, e fora invadido por todas aquelas preocupações armazenadas que julgara definitivamente esquecidas; um valente escagaçal, diria o Newton se soubesse falar português). Foi o que aconteceu uma vez mais: trouxe uma garrafa consigo. Toda a gente olhava para a garrafa e pensava que estava vazia. Mas não estava. No segundo dia de viagem, subiu a uma montanha e atirou a garrafa com toda a força de que foi capaz; ouviu o zunido que os objectos sempre fazem ao cortar o ar, depois o silêncio, depois o ténue estilhaçar do vidro a quebrar nas rochas. (Claro que poderia usar uma garrafa de plástico ou qualquer outro recipiente inquebrável mas, afinal, as suas preocupações eram uma parte de si – eram vida – e não apreciava a ideia de as saber aprisionadas indefinidamente; gostava de saber que estavam livres, desde que longe de si.) Contemplou o horizonte, respirou o ar puro enquanto observava o verde da linha de árvores misturar-se com o azul desvanecido do céu, esperou pelo pôr-do-sol; cheirava a árvore, cheirava a rocha, cheirava a paz. Quando regressou ao hotel, todos disseram que parecia alegre e feliz, despreocupado. Sorriu e disse que devia ser o ar da montanha que o fazia sentir-se mais leve; foi um sorriso que se prolongou durante muito tempo, como sempre acontece aos sorrisos das pessoas que não têm preocupações.
(Crónica para o Jornal de Leiria.)
Entre Janelas
Entre Janelas, um livro de Elsa Margarida Rodrigues, nascido no blogue Fotografar Palavras. Disponível na Livraria Arquivo.
"Vivemos vidas inteiras nos intervalos dos dias."
Libelinhas
Espaço O Nariz / Leiria (Foto: Maria João Alves)
Libelinhas
22º ACASO Festival de Teatro
Sábado 21/10
Espaço O Nariz / Leiria – 22h
O Nariz Teatro – Leitura pública da peça “Libelinhas” (a estrear em 2018)
Autor – Paulo Kellerman
Encenação – Pedro Oliveira
Interpretação – Ana Moderno, Bruno Jerónimo, Liliana Gonçalves, Sónia Pedrosa, Laura Perdomo Bouza Mayor e Tânia Chavinha
Um grupo de amigos reúne-se com a intenção de organizar um plano de apoio aos refugiados. Entre seriedade e riso, tensões e debates, cumplicidades e antagonismos, confissões e indiferenças, embrenham-se nos seus próprios problemas e as boas intenções vão-se revelando inconsequentes, tão bonitas quanto fugazes. Tal como o voo das libelinhas: a sua beleza cativa e seduz mas não deixa rasto. E se no oriente as libelinhas simbolizam a capacidade de transformação e de mudança constante, talvez para estes amigos ocidentais representem apenas efemeridade e inconstância. Seremos todos libelinhas?
Rascunhos de Verão
Fio
«Imagina que és um papagaio de papel a voar entre as nuvens, no meio do céu azul. Sabes aquele fio fininho e quase invisível que te prende à terra e te guia, que te dá sentido e orientação? É como a memória. Se não fosse esse fio, andavas simplesmente às voltas, perdido no vento.» Diz o avô ao neto.
Estória de amor I
Era uma vez uma sereia que se apaixonou por um marinheiro. Seguiu o seu barco durante anos e anos e anos, à espera que ele a olhasse. E um dia, ele olhou-a. Nervosa, ela disse: «O meu sonho é plantar um jardim contigo. E vê-lo crescer.» O marinheiro sorriu e respondeu: «Adoro sonhos impossíveis.»
Estória de amor II
O marinheiro construiu uma cabana numa falésia com vista para o mar; nas traseiras, havia uma pequena lagoa, onde a sereia nadava e o marinheiro passeava de canoa. Ao fim da tarde, cuidavam juntos do jardim que todos os dias crescia mais um pouco. E diziam um ao outro: «Não há sonhos impossíveis.»
Uma azeitona
O menino encontra uma azeitona no chão. Pega-a delicadamente e, com um sorriso no olhar, aproxima-se do avô, estende-lhe a mão. «Que se passa? Que tens aí?», pergunta o avô. O menino estende a mão com a azeitona e sorri ainda mais: «Trouxe-te uma árvore.»
Raízes no bolso
O avô apanha um punhado de terra e coloca-a no bolso das calças. Depois, apanha um novo punhado de terra e coloca-o no bolso das calças do neto. Responde ao seu olhar interrogador: «Faz de conta que somos árvores. E precisamos alimentar as nossas raízes, não é?»
Iupi?
Pegam num avião de papel, colocam um caracol lá em cima, põem-lhe uma carica a fazer de capacete, prendem tudo com fita-cola. E atiram o avião com força. Imaginam que o caracol voador diz “iupi”. Mas talvez tenham percebido mal. E felizmente não se aleijou. «A carica foi uma boa ideia.»
Árvore de giz
O menino decide que não é bonito guardar a sua colecção de folhas de árvore presa numa caixa. Então, desenha o tronco de uma árvore com giz, numa parede do seu quarto; depois cola as vinte e três folhas da colecção nos ramos desenhados. Quando vê a árvore de giz, a mãe ralha muito; mas por dentro, está a sorrir.
Diálogo
Há pessoas que gostam de estar em varandas e ver as nuvens passarem. Há nuvens que gostam de ver pessoas nas varandas a olharem para si. Não fosse a timidez e talvez até pudessem conversar entre si, estas pessoas e estas nuvens. Diriam: «Boa tarde». Diriam: «Está fresco, hoje». Diriam: «Até breve».
Já está
«Vou levar a lua para casa», diz o menino. A mãe encolhe os ombros e sorri. «E como vais fazer isso?», pergunta a mãe. O menino sorri o seu sorriso de menino, que é igualzinho ao da mãe; sorrisos gémeos. Depois, olha directamente para a lua como se a estivesse a ver pela primeira vez, fecha os olhos com força, respira fundo (ou seja: faz muito barulho a respirar) e diz: «Pronto, já está. Guardei-a.»
«Imagina que és um papagaio de papel a voar entre as nuvens, no meio do céu azul. Sabes aquele fio fininho e quase invisível que te prende à terra e te guia, que te dá sentido e orientação? É como a memória. Se não fosse esse fio, andavas simplesmente às voltas, perdido no vento.» Diz o avô ao neto.
Estória de amor I
Era uma vez uma sereia que se apaixonou por um marinheiro. Seguiu o seu barco durante anos e anos e anos, à espera que ele a olhasse. E um dia, ele olhou-a. Nervosa, ela disse: «O meu sonho é plantar um jardim contigo. E vê-lo crescer.» O marinheiro sorriu e respondeu: «Adoro sonhos impossíveis.»
Estória de amor II
O marinheiro construiu uma cabana numa falésia com vista para o mar; nas traseiras, havia uma pequena lagoa, onde a sereia nadava e o marinheiro passeava de canoa. Ao fim da tarde, cuidavam juntos do jardim que todos os dias crescia mais um pouco. E diziam um ao outro: «Não há sonhos impossíveis.»
Uma azeitona
O menino encontra uma azeitona no chão. Pega-a delicadamente e, com um sorriso no olhar, aproxima-se do avô, estende-lhe a mão. «Que se passa? Que tens aí?», pergunta o avô. O menino estende a mão com a azeitona e sorri ainda mais: «Trouxe-te uma árvore.»
Raízes no bolso
O avô apanha um punhado de terra e coloca-a no bolso das calças. Depois, apanha um novo punhado de terra e coloca-o no bolso das calças do neto. Responde ao seu olhar interrogador: «Faz de conta que somos árvores. E precisamos alimentar as nossas raízes, não é?»
Iupi?
Pegam num avião de papel, colocam um caracol lá em cima, põem-lhe uma carica a fazer de capacete, prendem tudo com fita-cola. E atiram o avião com força. Imaginam que o caracol voador diz “iupi”. Mas talvez tenham percebido mal. E felizmente não se aleijou. «A carica foi uma boa ideia.»
Árvore de giz
O menino decide que não é bonito guardar a sua colecção de folhas de árvore presa numa caixa. Então, desenha o tronco de uma árvore com giz, numa parede do seu quarto; depois cola as vinte e três folhas da colecção nos ramos desenhados. Quando vê a árvore de giz, a mãe ralha muito; mas por dentro, está a sorrir.
Diálogo
Há pessoas que gostam de estar em varandas e ver as nuvens passarem. Há nuvens que gostam de ver pessoas nas varandas a olharem para si. Não fosse a timidez e talvez até pudessem conversar entre si, estas pessoas e estas nuvens. Diriam: «Boa tarde». Diriam: «Está fresco, hoje». Diriam: «Até breve».
Já está
«Vou levar a lua para casa», diz o menino. A mãe encolhe os ombros e sorri. «E como vais fazer isso?», pergunta a mãe. O menino sorri o seu sorriso de menino, que é igualzinho ao da mãe; sorrisos gémeos. Depois, olha directamente para a lua como se a estivesse a ver pela primeira vez, fecha os olhos com força, respira fundo (ou seja: faz muito barulho a respirar) e diz: «Pronto, já está. Guardei-a.»
Chamamento
Porque estás aqui?
Qual a importância deste momento?
Já reparaste como a vida avança em ciclos?
Dias que se sucedem. E depois semanas, meses, anos.
É como se vivesses no interior de uma rotunda, sempre às voltas.
Porque, no fundo, tudo é circular. Tudo se repete.
E os momentos vão-se dissolvendo uns nos outros, misturando-se.
Como enganar o futuro e torná-lo inesperado?
Como sair da rotunda?
Afinal, o futuro tem pouco de verdadeiramente imprevisível.
Mesmo que os acontecimentos te surpreendam, tu és sempre tu.
A forma como vês e ouves é sempre a mesma.
Apenas tens dois olhos. Dois ouvidos.
És uma constante que vai evoluindo mas sem efectivamente mudar na essência.
És uma repetição.
És incapaz de te surpreender a ti próprio e isso perturba-te, irrita-te.
E desejas desafiar o futuro a surpreender-te.
Nunca tentaste fazer algo inesperado, algo que baralhe o futuro?
Tentar inverter a normalidade, tentar suspender a marcha do tempo.
Fazer com que cada momento conte por si.
Não é por isso que estás aqui?
Para contornar a previsibilidade, desafiar a rotina, procurar a surpresa?
É verdade que os dias se sucedem, e depois as semanas, os meses, os anos.
Mas o que conta é cada um dos momentos que compõem esses dias.
O que conta é o presente.
O que conta é estar aqui e agora.
Porque o aqui está repleto de possibilidades, de oportunidades, de desafios.
E talvez assim possas surpreender o futuro: não pensando nele.
Não olhando para o presente como se olha pela janela: sempre à espera de algo.
Porque estás aqui?
Por causa do momento.
Porque é aqui que está o teu presente. Em cada momento.
Sincroniza-te com ele.
Sim, tal como sincronizas as músicas no telemóvel.
O resto… O resto é passado, é silêncio, é esquecimento.
Que se lixe o resto.
Porque estás aqui?
Porque sentes o chamamento do presente.
Letra escrita para uma música dos First Breath After Coma, cantada / declamada pelo Carlos Matos (Broto Verbo). O convite foi do Hugo Ferreira (Omnichord Records) e a canção - Chamamento - surge no disco Leiria Calling, distribuído pela revista Blitz em 2014.
(Foto: Teresa Afonso.)
Qual a importância deste momento?
Já reparaste como a vida avança em ciclos?
Dias que se sucedem. E depois semanas, meses, anos.
É como se vivesses no interior de uma rotunda, sempre às voltas.
Porque, no fundo, tudo é circular. Tudo se repete.
E os momentos vão-se dissolvendo uns nos outros, misturando-se.
Como enganar o futuro e torná-lo inesperado?
Como sair da rotunda?
Afinal, o futuro tem pouco de verdadeiramente imprevisível.
Mesmo que os acontecimentos te surpreendam, tu és sempre tu.
A forma como vês e ouves é sempre a mesma.
Apenas tens dois olhos. Dois ouvidos.
És uma constante que vai evoluindo mas sem efectivamente mudar na essência.
És uma repetição.
És incapaz de te surpreender a ti próprio e isso perturba-te, irrita-te.
E desejas desafiar o futuro a surpreender-te.
Nunca tentaste fazer algo inesperado, algo que baralhe o futuro?
Tentar inverter a normalidade, tentar suspender a marcha do tempo.
Fazer com que cada momento conte por si.
Não é por isso que estás aqui?
Para contornar a previsibilidade, desafiar a rotina, procurar a surpresa?
É verdade que os dias se sucedem, e depois as semanas, os meses, os anos.
Mas o que conta é cada um dos momentos que compõem esses dias.
O que conta é o presente.
O que conta é estar aqui e agora.
Porque o aqui está repleto de possibilidades, de oportunidades, de desafios.
E talvez assim possas surpreender o futuro: não pensando nele.
Não olhando para o presente como se olha pela janela: sempre à espera de algo.
Porque estás aqui?
Por causa do momento.
Porque é aqui que está o teu presente. Em cada momento.
Sincroniza-te com ele.
Sim, tal como sincronizas as músicas no telemóvel.
O resto… O resto é passado, é silêncio, é esquecimento.
Que se lixe o resto.
Porque estás aqui?
Porque sentes o chamamento do presente.
Letra escrita para uma música dos First Breath After Coma, cantada / declamada pelo Carlos Matos (Broto Verbo). O convite foi do Hugo Ferreira (Omnichord Records) e a canção - Chamamento - surge no disco Leiria Calling, distribuído pela revista Blitz em 2014.
(Foto: Teresa Afonso.)
Personal Jesus
(I) Lembro-me onde estava no dia 11 de Julho de 1993: Estádio José Alvalade. Ali à frente, a minha banda preferida. Cantei, dancei, pulei, gritei. Acho que chorei. Fui de expresso com uma amiga, comprei uma t-shirt. Também me lembro onde estava no dia 8 de Julho de 2017: Passeio Marítimo de Algés. Ali à frente, a minha banda preferida. Cantei, dancei, pulei, gritei. Sei que não chorei. Fui com a família, não comprei nenhuma t-shirt. Entre os dois momentos, passaram vinte e quatro anos; e apesar da banda preferida ser a mesma, tudo parece infinitamente diferente. Ou tudo parece tão semelhante? Continua a existir uma sensação de pertença e de identificação quando se grita em conjunto com milhares de pessoas desconhecidas frases que são sentidas como slogans pessoais, como revelações íntimas. Continua a fazer sentido, tal como fazia há vinte e quatro anos, partilhar com a multidão anónima confissões e apelos como “Now I'm not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusionsTry walking in my shoes.” Uma forma pagã de reza, talvez. A procura de um qualquer Deus: “Your own personal Jesus, Someone to hear your prayers, Someone who's there.” Cada um reza como pode, como sabe, como consegue, como precisa; com o timbre individual do seu desespero.
(II) Desde a adolescência que desconfio que não existe Deus. Confesso que gostava que existisse, dava-me jeito que existisse, por vezes até tenho uma certa inveja de quem está convencido que existe. Mas não consigo acreditar, basta abrir os olhos e olhar em redor: as evidências que comprovam a impossibilidade de existência de um ser superior, perfeito e omnipotente, bondoso, saltam de todos os lados. Haverá quem diga exactamente o oposto, que saltam à vista as evidências que comprovam essa existência. Questão de perspectiva, questão de fé. Ou questão de desespero.
(III) Tenho uma amiga que diz que o destino é um palhaço. Entre nós, concordamos que o destino brinca e provoca, desconcerta, baralha; ou seja, faz palhaçadas; mas em vez de usar balões e esguichos de água e sapatões gigantes, usa as nossas vidas. Fingimos que não mas, no fundo, temos algum medo porque a total arbitrariedade e imprevisibilidade assusta um pouco. Ou muito, talvez assuste mesmo muito. E deve ser por causa desse medo ancestral que procuramos incessantemente um sentido, uma lógica, uma coerência. Procuramos um qualquer “Personal Jesus” que domestique o destino e o obrigue a portar-se bem connosco, que nos permita esquecer que somos apenas uns balõezinhos nas mãos de um palhaço descontrolado; que nos permita esquecer que a qualquer momento podemos rebentar; que nos dê a ilusão de que existe um sentido e um propósito em rebentarmos.
(IV) Talvez não pareça mas esta crónica é sobre o inominável. EN 236-1. E termina como começou, com os Depeche Mode: “I don't want to start any blasphemous rumors but I think that God's Got a sick sense of humor and when I die I expect to find Him laughing.”
(II) Desde a adolescência que desconfio que não existe Deus. Confesso que gostava que existisse, dava-me jeito que existisse, por vezes até tenho uma certa inveja de quem está convencido que existe. Mas não consigo acreditar, basta abrir os olhos e olhar em redor: as evidências que comprovam a impossibilidade de existência de um ser superior, perfeito e omnipotente, bondoso, saltam de todos os lados. Haverá quem diga exactamente o oposto, que saltam à vista as evidências que comprovam essa existência. Questão de perspectiva, questão de fé. Ou questão de desespero.
(III) Tenho uma amiga que diz que o destino é um palhaço. Entre nós, concordamos que o destino brinca e provoca, desconcerta, baralha; ou seja, faz palhaçadas; mas em vez de usar balões e esguichos de água e sapatões gigantes, usa as nossas vidas. Fingimos que não mas, no fundo, temos algum medo porque a total arbitrariedade e imprevisibilidade assusta um pouco. Ou muito, talvez assuste mesmo muito. E deve ser por causa desse medo ancestral que procuramos incessantemente um sentido, uma lógica, uma coerência. Procuramos um qualquer “Personal Jesus” que domestique o destino e o obrigue a portar-se bem connosco, que nos permita esquecer que somos apenas uns balõezinhos nas mãos de um palhaço descontrolado; que nos permita esquecer que a qualquer momento podemos rebentar; que nos dê a ilusão de que existe um sentido e um propósito em rebentarmos.
(IV) Talvez não pareça mas esta crónica é sobre o inominável. EN 236-1. E termina como começou, com os Depeche Mode: “I don't want to start any blasphemous rumors but I think that God's Got a sick sense of humor and when I die I expect to find Him laughing.”
Crónica n.º 55 para o Jornal de Leiria.
Loucura
Novo ebook.
Com fotos de:
Com fotos de:
Ana Luísa de Melo | Andreia Monteiro | Bruno Mourinha | Carla de Sousa | Catarina Mamede | Cláudia Andrade | Cristina Lopes | Elsa Alexandrino | Elsa Margarida Rodrigues | Fátima Abreu Ferreira | Francisco Moreira | Helena Serrador | Inês Sarzedas | Liliana Carvalho | Liliana Gonçalves | Luciana Esteves | Mafalda Malafaya | Maria João Alves | Maria João Dias | Maria João Faísca | Mónia Camacho | Ricardo Graça | Ritabela Santos | Rosa Paixão | Selma Preciosa | Sílvia Bernardino | Sónia Serafim | Sónia Silva | Sonja Valentina | Teresa Bret Afonso | Teresa Marques dos Santos
O rasto da sardanisca
Era uma vez um sítio onde faltava uma árvore. Havia campo e nuvens, o cheiro da relva, borboletas e caracóis, silêncio. Mas faltava a árvore.
– Faltava eu.
– É estranho pensarmos em como seria o mundo antes de fazermos parte dele.
– Ainda me lembro da plantação da minha semente, foi como se a natureza se tivesse unido e trabalhado em conjunto, uma espécie de dança do sol e da chuva e da terra, para me receber. Para que se cumprisse aquilo que eu já era em potência: uma árvore.
– São essas as tuas primeiras memórias? De antes de nasceres?
– Sim. Mas lembro, também, o que senti quando era uma árvore recém-nascida. Olhar em volta e descobrir o mundo pela primeira vez, senti-lo, respirá-lo, cheirá-lo. E pensar: uau. Pensar: caramba. Pensar: isto é tão fixe.
– Nascer deve ser uma coisa bem boa. Gostava de experimentar, um dia.
– E logo depois apareceu um cão e fez xixi mesmo em cima de mim. E eu pensei: está a regar-me. E até isso pareceu fixe. Mas foi o primeiro contratempo que tive. Porque apesar de ser fixe, era um bocado desagradável. E apeteceu-me sair dali. Foi então que percebi: oh, não consigo mudar de sítio. Estou presa.
– E isso deixou-te triste?
– Não. Sentia-me feliz. Como é que alguém que acabou de nascer se pode sentir triste? Tem a vida toda pela frente e o mundo inteiro para conhecer. O tempo ainda está a começar.
– Eras uma jovem árvore muito ajuizada. Mas também um pouco sonhadora.
– Sentia muita curiosidade. Curiosidade pelo mundo que existia para além do que me rodeava, do mundo que não conseguia ver nem respirar nem cheirar. Sentia uma vontade enorme de conhecer, de aprender; e perguntava-me se não existiria uma forma ou um local onde se pudesse conhecer e aprender tudo o que existe para saber sobre o mundo.
– Existe. Chama-se escola.
– Sim. E era esse o meu sonho, enquanto crescia. Já que não podia ir à escola, porque estava presa à terra, que viesse a escola até mim. Para me ensinar o mundo. E às vezes, segredava esse pedido ao deus das árvores: traz-me uma escola.
– E eu ouvi.
– Ouviste. Houve um dia em que apareceram pessoas. Estava habituada às borboletas e aos caracóis, aos coelhos selvagens e aos pássaros, às sardaniscas, mas nunca vira pessoas. Fiquei a observar como andavam de um lado para o outro, a medir e a projectar e a discutir e a escavar e a rir e a arquitectar e a engonhar. Ainda não sabia o que tudo aquilo significava mas depois percebi: estavam a imaginar uma escola.
– É isso que as pessoas têm de melhor. Imaginam. E por vezes conseguem concretizar o que imaginam.
– Fartaram-se de imaginar, de um lado para o outro. E depois construíram, foram construindo e construindo e eu a pensar: uau. A pensar: caramba. A pensar: isto é tão fixe.
– És uma árvore que se entusiasma muito.
– Pois sou. Especialmente quando as coisas correm como gosto. Que foi o que aconteceu com a escola. Passou-se tal e qual como desejara. Fui assistindo e vivendo o quotidiano da escola; apesar de não estar lá, aprendia tudo o que sempre sonhara aprender através do que observava, do que ouvia. Apesar de nunca sair do mesmo sítio, aprendia e sentia o mundo, que chegava até mim através das visões e sentimentos de todas as pessoas com quem me cruzava.
– Apaixonaste-te pelas pessoas. E as borboletas e caracóis, os coelhos selvagens e os pássaros, as sardaniscas?
– Continuaram as suas vidas e, à noite, faziam-me companhia. Mas com as pessoas fui aprendendo tudo sobre o mundo; e quanto mais aprendia, suspeitava que havia muito que ainda faltava aprender. O saber é como um bolo de chocolate: quanto mais comemos, mais queremos comer. Até doer a barriga.
– As árvores não comem bolo de chocolate. E não têm barriga.
– Mas além de me mostrar o mundo e o seu funcionamento, a escola ensinou-me algo mais importante. Ensinou-me a pensar. Por isso é que posso falar de coisas que não vi, como o bolo de chocolate. Porque as pensei. E sabes outra coisa que a escola me ensinou a compreender?
– Sou o deus das árvores. Sei tudo.
– Mas digo na mesma. Ensinou-me o que é o tempo. Fui envelhecendo, as folhas caíam e vinham outras novas, mas o meu tronco ia acumulando círculos. Os círculos do tempo. Como os relógios acumulam as voltas dos seus ponteiros. A escola mantinha-se fervilhante de vida, sempre agitada, sempre ruidosa. Os novos alunos que chegavam eram filhos dos primeiros alunos, que visitavam a sua antiga escola como adultos, como encarregados de educação. Era como uma repetição, os sorrisos e as birras eram iguais. Um ciclo. O tempo tinha passado, mas parecia que não. O tempo está sempre a passar, mesmo quando parece que não.
– Sempre. Toda a gente sabe isso. Menos as borboletas e caracóis, os coelhos selvagens e os pássaros, as sardaniscas.
– O tempo passou. Ainda havia muito para aprender, há sempre infinidades de coisas para aprender, mas as crianças que andavam pela escola iam diminuindo. Eram pouquinhas. E depois, nenhumas. Um dia, a escola fechou, ficou abandonada. Apenas paredes sem vida. Não sabia para onde teriam ido as crianças, como fariam para aprender. Preocupava-me com elas, mas também comigo. Lamentava-me: mas ainda tenho muito para aprender, ainda preciso viajar tanto…
– Esqueceste que o tempo também estava a passar para ti. É como se fosses um relógio, e medisses o tempo da escola. Mas mesmo quando está a medir o tempo para os outros, o tempo também está a passar para o relógio.
– As paredes abandonadonas foram caindo. E tudo voltou ao que era antes. Campo e nuvens, o cheiro da relva, borboletas e caracóis, silêncio. Eu a perguntar-me como iria prosseguir a minha vida, a minha viagem no tempo. Volta a aparecer um cão e a regar-me com o seu xixi. Como um ciclo que se encerra. Recordo o som do riso das crianças quando corriam ao acaso e desordenadamente pela escola. Revivo algumas memórias, pergunto-me com quem as partilharei, quem as recordará. Pergunto às sardaniscas: o que fica de nós, depois de desaparecermos? Quem toma conta do que resta de nós? As sardaniscas não respondem. Mas se falassem, talvez dissessem que há muitas formas de aprender, de conhecer, de descobrir, de viajar, de partilhar; e de recordar, de manter vivo o que já não é vivo…
– As sardaniscas sempre foram sensatas.
– Olhava para o céu azul, via as nuvens passarem. Gostava de ser nuvem e esvoaçar ao acaso. Conheces o deus das nuvens? Aposto que é um deus bem fixe.
– Por acaso, é.
– Olhava as nuvens e pensava que a vida até pode parecer um ciclo mas, na verdade, talvez seja uma linha sem fim. Não uma linha externa e imposta por alguém, e que temos de seguir obrigatoriamente; mas uma linha que nós próprios inventamos e seguimos, uma linha que improvisamos. E por isso é que a linha da nossa vida, a nossa pegada no mundo, pode parecer torta e confusa, cheia de curvas e voltas…
– Como o rasto deixado na areia por uma sardanisca irrequieta.
– Uma linha que criamos e seguimos mesmo que sejamos uma árvore presa à terra, com raízes que nunca viram o sol. Deixei um rasto bonito no mundo, não deixei?
O deus das árvores sorri. Abre a porta do céu das árvores e deseja as boas vindas. Devagarinho, a árvore entra. Também está a sorrir.
(Conto escrito para a VI edição do Serão com Arte
Transparência
Estou na varanda a apanhar sol e, como é hábito, penso disparates. Por exemplo: uma prova da inexistência de deus é o facto de as pessoas terem a pele opaca. Uma entidade perfeita, caso existisse, teria criado os humanos com pele transparente. Como a vida seria mais fácil e enriquecedora se pudéssemos olhar para dentro dos outros, e os outros para dentro de nós; ver a realidade pura, sem subterfúgios nem máscaras nem disfarces. O sol está forte e aquece-me a careca, o pensamento seguinte é óbvio: se a pele fosse transparente, bronzearia ou não? Rio um bocadito do disparate, e rir sozinho é um prazer bom, apesar de se achar que é coisa de doidos. Quando o riso passa, distraio-me com uma vizinha que se aproxima; talvez a veja uma ou duas vezes por semana e nunca lhe descobri um sorriso. Oito anos, zero sorrisos. Porquê? Se a senhora fosse transparente, talvez conseguisse perceber o que lhe rouba o sorriso; ou para quem o guarda. A vizinha desaparece e logo a esqueço, lembro-me que podia ir buscar um livro e ler um bocado; mas distraio-me com uns pássaros que esvoaçam como se não houvesse passado ou futuro, como se nada importasse além do simples bater das asas. Será que os pássaros têm depressões? Não, é impossível; qualquer ser que tenha a capacidade de voar estará geneticamente impedido de sentir tristeza. Se tivesse o telemóvel à mão, mandava uma mensagem a uma amiga veterinária a perguntar: os pássaros sentem tristeza? E depois íamos tomar um café. Talvez lhe dissesse: o facto de haver pássaros poderá ser uma prova da existência de deus, não achas? Contudo, penso eu enquanto o sol me aquece a pele, um deus que criasse pássaros voadores e, simultaneamente, homens incapazes de voar seria um deus algo perverso; caso em que se aplicaria o verso de uma antiga música: “Penso que deus tem um sentido de humor doentio e quando eu morrer espero encontrá-lo a rir.” Em inglês soa mais bonito. E de repente apetece-me ouvir discos. Mas não posso ouvir discos e apanhar sol ao mesmo tempo. Por isso, assobio a música, baixinho. Os pássaros sentirão inveja dos humanos? Talvez gostassem de conseguir assobiar; ou de desenhar; ou de voar dentro de aviões; ou de comer entrecosto com batatas fritas e, no final, lamberem os dedos; ou de, simplesmente, ter dedos. Não sabemos. Na verdade, não sabemos nada sobre nada, como dizia um filósofo com nome de político. Os pássaros desapareceram e continua a apetecer-me ouvir discos. Não é ouvir música, é ouvir discos. O quase imperceptível sibilar da agulha no vinil lembra que nem a música pode aspirar à perfeição (apenas alcançável aos deuses); é o ruído do sibilar que torna a música humana. Ou poderá a música provar que os homens que a criam são, momentaneamente, deuses? Fazer música deve ser como voar, e eu sou incapaz de ambas as coisas. Resta-me ir lanchar, para distrair os disparates. Ah, penso de repente: se a pele fosse transparente, ver-se-ia a digestão. Afinal, talvez a opacidade seja útil. É possível que após o lanche escreva sobre tudo isto; o que será mais um disparate, porque escrever é uma forma de transparência.
(Crónica para o Jornal de Leiria)
Crescendo numa pedra (revisitada)
Crescendo numa pedra (revisitada). Exposição de fotografia de Teresa Marques dos Santos para a qual escrevi alguns textos. A partir de 22 de Março.
30 sílabas
∞
Basicamente,
era um caracol preguiçoso. Gostava de estar sossegado no seu canto da floresta,
indiferente às pressas do mundo. Havia um pássaro seu amigo que lhe dizia: «Oh
pá, tu és o único caracol que tem duas conchas. Essa em que vives e onde te proteges
da chuva. E outra, que não se vê mas que é a mais rija: aquela onde te escondes
do mundo.» O caracol encolhia os ombros (faz de conta, porque os caracóis não
têm ombros), o pássaro encolhia os ombros (faz de conta, porque os pássaros não
têm ombros) e ficavam os dois a olhar para as árvores. Depois, o pássaro
cansava-se do silêncio e falava dos seus voos. Contava como era bom furar as
nuvens com o bico e sentir a sua brancura húmida, como era inebriante sobrevoar
o mar e sentir os salpicos das ondas nas penas, como gostava de voar na
direcção do pôr-do-sol e sentir que um dia chegaria até junto dele, como sentia
serenidade quando pousava no cimo do farol e contemplava aquela linha mágica
onde o azul do céu se mistura com o azul do mar. E suspirava. Para afastar a fantasia,
o caracol dizia uma qualquer coisa pragmática e anti-sonho, como por exemplo:
«És palerma. Então não sabes que se conseguisses chegar junto ao sol, te
queimavas todo? Pode parecer mais fraquinho quando está a desaparecer mas olha
que mesmo assim está quente. Uns cinquenta e nove graus. Pelo menos.» A fantasia
afastava-se. E antes de regressar aos seus esvoaçamentos, o pássaro dizia:
«Gostava de te levar comigo, um dia. Mas o peso das tuas conchas é demasiado
para mim.» Contudo, ambos sabiam que quando partilhava os seus voos e os seus
sentires, o pássaro transportava o amigo consigo. Depois do pássaro partir, o
caracol percorria os seus caminhos de sempre e deixava neles o seu rasto
pegajoso; mas, na verdade, estava a voar; o seu espírito voava. E de tal forma
esses voos eram reais que começaram a corroer as suas conchas. Foi por isso que,
certo dia, deu por si a planear um voo verdadeiro. Como perceber em que momento
um sonho se transforma num plano? Talvez isso seja tão difícil de determinar como
perceber onde termina o azul do céu e começa o azul do mar. Mas que importa? Há
dois azuis e de repente ambos se transformam apenas num, em algo que é muito
mais do que uma simples soma de duas partes. 1+1=∞. «Oh pá, é magia. E não
penses mais nisso.», diria o pássaro. Houve, portanto, um momento em que o
sonho passou a plano. E, na segurança da sua concha, o caracol começou a
preparar uma viagem de descoberta. Um voo. Uma caminhada, que é aquilo que os
caracóis fazem quando precisam sair das suas conchas e sentir o mundo. Planeou
que caminharia até ao farol, porque de tudo o que o pássaro lhe contava era o
farol o que mais o fascinava. Não diria nada a ninguém, limitar-se-ia a ir
(talvez amanhã, porque basicamente era preguiçoso. Mas iria…); e após uma longa
e difícil jornada até ao topo do farol, contemplaria a imensidão do horizonte e
talvez conseguisse sentir-se verdadeiramente parte do mundo; nesse momento, as
suas conchas ficariam mais leves, tão leves que nem as sentiria. E poderia aguardar
a chegada do pássaro, para o surpreender: «Que andas a fazer por aqui?», diria
num tom sério. E depois ririam, juntos. Leves.
(Crónica para Jornal de Leiria)
Pelo menos numa coisa concordamos
«Se
agora pudesses fugir, para onde irias?»
«Porque
haveria de querer fugir?»
«Todos
queremos fugir. Porque seria diferente contigo?»
«Tu
queres fugir?»
«Claro
que sim. Por vezes. Muitas vezes.»
«E
porque não o fazes?»
«Porque
para fugir é preciso ter coragem.»
«É?»
«Claro
que sim. A ideia de que a fuga é a opção dos cobardes parece-me bastante parva.
Já pensaste nisso? A maior parte das vezes, a alternativa mais fácil é precisamente
ficar. A permanência é mais fácil, a continuidade é mais fácil. Uma fuga é uma
quebra da ordem, um desafio à ordem. Exige coragem, não achas?»
«Não
sei. Nunca tinha pensado nisso.»
«Não?
Nunca pensas em fugir?»
«Queres
que te diga a verdade? Todos os dias penso em fugir.»
«De
quê?»
«Nem
sei. É preciso fugir de alguma coisa?»
«Geralmente,
fugimos porque algo nos persegue. E a maior parte das vezes esse algo somos nós
próprios. Somos nós que nos perseguimos, que forçamos a nossa própria fuga.»
«Isso
parece-me demasiado filosófico. E dizem que a filosofia é a ciência do saber
pensar mas cá para mim é a ciência do conseguir complicar. É verdade que não
reflecti sobre isto mas parece-me simples. A necessidade de fuga pode ser um mero
desejo de estar noutro lado, não? Quero estar ali e não aqui, apenas isso. E
provavelmente quando chegar ali percebo que já não quero estar lá.»
«É
assim que se passa contigo?»
«Por
vezes, é. Ou melhor, acho que é o que se passa sempre. Mas já me habituei a não
reparar, a fingir que não percebo.»
«A tua
vida é um fingimento?»
«Não
poupas nas perguntas, tu.»
«Desculpa.»
«Não
faz mal.»
«E
então? É?»
«Gosto
de ti. Quero impressionar-te, quero seduzir-te, quero agradar-te; porque gostaria
que também gostasses de mim. Parece simples, não achas? E no fundo podemos
reduzir tudo a isso: à necessidade de ser gostado. Queremos que gostem de nós.
Apenas isso. E se sentimos que não gostam, tendemos a fingir ser algo que não
somos, algo que imaginamos que os outros possam apreciar em nós. Fingimos
porque precisamos.»
«Que
perspectiva sombria da vida.»
«E não
será assim com toda a gente?»
«Preocupas-te
com o que os outros pensam de ti?»
«Por
vezes, claro que sim. Mas também me preocupo com o que penso de mim. No fundo,
a opinião que temos de nós próprios acaba por determinar tudo.»
«E que
opinião tens de ti próprio?»
«Geralmente,
a opinião que tenho de mim é muito condicionada pela opinião que os outros têm
de mim; como se me precisasse de olhar ao espelho, sabes? Se não te olhares ao
espelho durante um mês, acabas por começar a esquecer o aspecto do teu rosto. Podes
até correr o risco de não te reconheceres de imediato. Não acontece isso
contigo?»
«Nem
por isso.»
«E se
não vês o teu reflexo nos outros, também acabas por perder um pouco a noção daquilo
que és. Se ninguém te diz que tem saudades tuas, por exemplo; isso reflecte
algo, penso eu. Reflecte que ninguém gosta de ti o suficiente para sentir
saudades tuas, que ninguém sente verdadeiramente a tua ausência. Que não fazes
falta.»
«E não
poderá apenas significar que as pessoas não querem ou não conseguem dizer que
têm saudades, apesar de as sentirem? Há muita gente que prefere não o fazer,
que julga que dizer que tem saudades é uma forma de pedir atenção, de se
intrometer na vida no outro. Não dizer que tem saudades pode ser um acto de
respeito pelo outro. De respeito pelo seu espaço e pelo seu tempo; e pelos seus
sentires, claro.»
«É
verdade. Mas se toda a gente agir desse modo, ninguém verbaliza o que sente. E
a partir de certo momento, todos seríamos forçados a intuir os sentimentos dos
outros. Porque se não o diz, não podemos ter a certeza. Resta-nos adivinhar.»
«Mas não
é a palavra que confere certeza seja ao que for. Não é por ser dito, por se
transformar em palavras, que um sentimento ganha consistência.»
«Pois
não. Mas por outro lado, se o outro não diz o que sente, como poderás saber?
Vais falar-me de olhares, de gestos, de atitudes? Claro que um olhar pode dizer
mais que uma biblioteca cheia de palavras. Mas o ideal, parece-me, é que o
gesto coincida com a palavra. Que o gesto seja demonstrado mas também dito.»
«Não é
o facto de ser dito que o torna mais real, mais concreto. Um sentimento está
muito além das palavras que o possam descrever. Aliás, as palavras são apenas
uma convenção. Sentes de determinada forma e é conveniente que dês uma
designação a esse sentimento; e então atribuis-lhe uma palavra pré-definida,
que consensualmente descreve aquilo que sentes. No fundo, a mania de reduzir
tudo a palavras é uma forma de preguiça.»
«Achas
mesmo?»
«Diz-me,
o que preferes: que diga que te amo ou que te beije de uma forma que te mostre
o quanto te amo?»
«Tu não
me amas.»
«Mas se
amasse? E já agora, como sabes que não te amo? Porque não te disse? Para ti, o
amor apenas existe a partir do momento em que se anuncia formalmente?»
«Achas
que isso pode vir a acontecer?»
«O
quê?»
«Que
venhas a amar-me.»
«Primeiro
teríamos que definir o que significa amar, não é? Vês como as palavras apenas
complicam as coisas?»
«Estás
a fugir à pergunta.»
«E não
posso fugir às perguntas que quiser? Diz-me tu, então: achas possível que eu
venha a amar-te? Seja lá o que signifique isso de amar.»
«Parece-te
normal estarmos para aqui a falar de amor? Quando, no fundo, nem meia dúzia de
vezes falámos?»
«Também
foges às perguntas, afinal.»
«Se
calhar é demasiado cedo para fazer certas perguntas.»
«O
problema nunca está nas perguntas mas nas respostas. E não devemos fazer as
perguntas se não estivermos preparados para as respostas.»
«És tão
sentenciosa.»
«Estás
preparado para a resposta à tua pergunta? E se disser que te amo? Estás
preparado para isso?»
«Estás
a brincar com as palavras.»
«Tu é
que és defensor do uso da palavra. E se as palavras permitem que se brinque com
elas, é mau sinal. Já com os sentimentos, é mais complicado brincar.»
«Também
estás a brincar com os meus sentimentos, de certa forma.»
«Desculpa,
então. Não, não te amo. Não faço ideia se alguma vez amarei. Nem sei, sequer,
se quero amar-te.»
«Se
queres? Mas então o amor é um acto de decisão? De opção?»
«Tens
razão. Agora, expressei-me mal. Se calhar, estou defensiva.»
«Porquê?»
«Não
sei. No fundo, é como dizes. É um pouco disparatado estarmos aqui a falar de
amor quando mal nos conhecemos.»
«Mas o
facto de o estarmos a fazer talvez seja revelador de algo, não?»
«De que
somos parvos, talvez.»
«Porque
estás defensiva?»
«Talvez
porque o amor me assuste. O amor é avassalador, não se controla, não se liga
nem desliga. Ou existe ou não existe, ponto final. E, por isso, assusta-me.
Porque me vulnerabiliza completamente. O amor é aquilo que, simultaneamente,
mais nos fortalece e enfraquece, já reparaste? O que queria dizer era que não
sei se neste momento da minha vida me quero vulnerabilizar.»
«Tens
medo do que sentes, do que podes sentir?»
«Claro.
Agrada-te a ideia de que possa apaixonar-me por ti? Excita-te?»
«Que
disseste há pouco? Se não estiveres preparada para as respostas, não faças as
perguntas.»
«Agrada-te?»
«Tu
agradas-me.»
«Achas
que esta conversa vai conduzir a algum lado?»
«Todas
as conversas conduzem a algum lado. E gosto do destino desta.»
«Não
achas disparatado falar de futuro quando o presente deveria merecer toda a
nossa atenção? Quando o presente é feliz.»
«É?
Estás feliz?»
«Claro.
Falar contigo faz-me feliz.»
«Porquê?»
«Racionalizar
a felicidade é algo que não me interessa. Uma perda de tempo, acho eu.»
«Sim,
talvez seja. Afinal, o problema da felicidade é o pós-felicidade, não? Estamos
felizes e parece que o mundo parou, nada mais interessa; somos o mundo. Mas de
repente, a felicidade cessa. E pronto. Cessa, simplesmente; ponto final. E os
momentos que se seguem a essa constatação são desoladores. Como se tivéssemos
acabado de perder tudo, como se fossemos forçados a recomeçar sempre e sempre;
como se, no fundo, tudo o que vivemos acabe por ser quase irrelevante.»
«Lá
está, essa é mais uma forma de misturar presente e futuro. Quando o que importa,
acho eu, é desligar o presente do passado e do futuro. Interessa o momento, em
si.»
«Mas o
momento apenas pode ser verdadeiramente valorizado quando enquadrado numa
continuidade, numa linha evolutiva. Cada momento, por si, isolado, vale pouco.
O que o valoriza e potencia, o que o intensifica, é o enquadramento. Este
momento, por exemplo. É um momento feliz, em si próprio. Mas o que o torna
verdadeiramente especial é tudo o que conduziu até aqui e tudo o que seguirá. O
cadenciar de momentos, a sequência.»
«Como
se a vida fosse um dominó. Conheço a perspectiva. As peças que se tocam, que
estão interligadas, que são interdependentes; que apenas cumprem a sua função
quando conjugadas com as outras peças, etc., etc., etc. Já reparaste que é uma
perspectiva que menoriza o valor individual de cada peça? Que insinua que
importa mais o conjunto do que a individualidade. Uma espécie de comunismo. E a
verdade é que não sei se concordo muito com isso. Percebo mas não concordo.»
«Esta
conversa faz-te feliz, mesmo que não tenha qualquer continuidade? Mesmo que
nunca mais nos vejamos? A possibilidade que daqui uns dias nos voltemos a
encontrar não contribui em nada para que este momento, o aqui e agora, seja
mais feliz?»
«Será
que concordamos em alguma coisa?»
«Sim.
Pelo menos numa coisa concordamos. Nisto.»
E beija-a.
Subscrever:
Comentários (Atom)